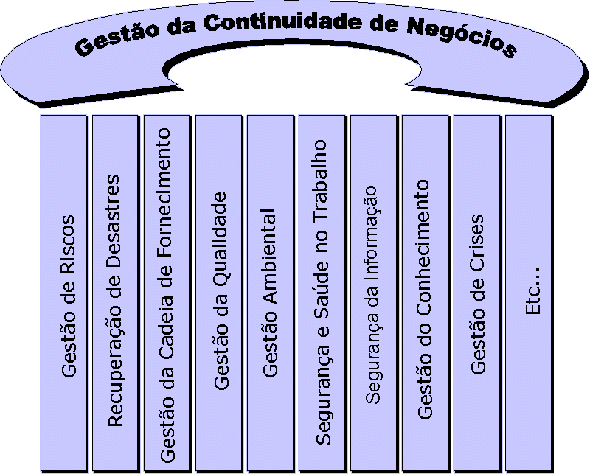Gestão de Crises
A ameaça dos grandes riscos
por Alexandre Teixeira (IstoÉ Dinheiro)
revisão Francesco De Cicco (QSP)
A Marsh, maior corretora de seguros do mundo, hoje com faturamento de R$ 900 milhões em prêmios no Brasil, tem uma observação antipática, porém necessária, a fazer sobre desastres recentes, como o megaderramamento de lama de uma planta da mineradora Rio Pomba Cataguases ou o colapso da obra de expansão do metrô de São Paulo. Pesadelos para as empresas envolvidas, esses eventos são tachados de “anti-cases de seguro”. Situações que envolvem responsabilidade civil e danos ambientais, em que ficou patente o despreparo das companhias para enfrentar situações de crise – o que parece especialmente grave no caso da Rio Pomba, que fora responsabilizada por acidente semelhante um ano antes e nem assim criou planos de contingência.
A verdade inconveniente que a Marsh se dispõe a expor é que a esmagadora maioria das empresas brasileiras está atrasada em relação aos padrões internacionais de controle de grandes riscos. A boa notícia é que, infelizmente, a experiência internacional mostra que o investimento em prevenção e reação a desastres costuma entrar na agenda das companhias depois de importantes catástrofes ou, ao menos, ameaças. Foi assim com os departamentos de tecnologia da informação em 1999, diante das então aterradoras perspectivas de um “bug do milênio”. E, mais tarde, em 2001, sob o choque do 11 de setembro. A expectativa da corretora é de que os acidentes da mineradora e do metrô, assim como a queda do avião da Gol e o apagão aéreo, funcionem como terapia de choque no mundo empresarial brasileiro.
“Como não há catástrofes naturais no Brasil, o brasileiro não vê por que se preparar para grandes riscos”, observa Roberto Zegarra, vice-presidente da Marsh. Mas há um conjunto de ameaças reais, que tem se explicitado em episódios recentes. “A reputação do Metrô será afetada, assim como foi a da Petrobras, em 2001, devido ao acidente com a plataforma P-36”, exemplifica. Grande parte desses desastres é provocada por falhas operacionais e não por causas naturais. Não obstante, podem ter impacto arrasador no desempenho das companhias e, conseqüentemente, no retorno para os acionistas.
A expectativa atual é que a demanda por programas de Gestão da Continuidade de Negócios venha primeiro das empresas com ADRs negociadas na Bolsa de Nova York, que, por força da legislação americana, são obrigadas a manter planos estruturados para enfrentar situações de crise. Outra frente estará no setor financeiro, que, por conta da Resolução 3380 do Banco Central, exige que as instituições financeiras em operação no País apresentem, até dezembro próximo, seus planos de Gestão de Riscos. Fora isso, a crescente valorização do conceito de desenvolvimento sustentável pelo mercado tende a tornar o gerenciamento de grandes riscos um diferencial competitivo perseguido pelas empresas em geral.
A Gestão da Continuidade de Negócios (GCN) é definida na norma britânica BS 25999-1:2006 como um "processo holístico de gestão que identifica ameaças potenciais a uma organização e os impactos que tais ameaças, se concretizadas, poderão causar às operações do negócio". A GCN engloba o gerenciamento da recuperação ou continuação das atividades da organização na ocorrência de um evento de interrupção do negócio, e o gerenciamento do programa global de GCN através de treinamento, práticas e análises críticas, a fim de assegurar que os Planos de Continuidade de Negócios se mantenham adequados e atualizados.
Um fator crítico, quando se trata de acidentes, é a comunicação. Um exemplo notável é o caso do superpetroleiro Exxon Valdez, que bateu na costa do Alasca em 1989, deixando vazar 260 mil barris de petróleo e provocando um dos maiores desastres ambientais da história. À época, a Exxon Mobil recusou-se a falar com a mídia, perdeu o controle da história e viu sua imagem temporariamente arruinada. Seu valor em bolsa encolheu US$ 3 bilhões e seu nome virou sinônimo de arrogância corporativa. Não por acaso, um dos componentes da GCN é a Gestão de Crises, que, idealmente, protege a imagem da empresa e minimiza ações judiciais ao preestabelecer regras para a comunicação com todos os seus públicos.
“Nessa nossa crise da aviação, não há nada pior do que encontrar a atendente da companhia perdida, sem saber o que falar”. A Gol, por sua vez, é elogiada no que diz respeito à comunicação com a imprensa depois do acidente com um de seus aviões – mas não no atendimento às famílias das vítimas. “Eles poderiam ter feito bem melhor”, diz Zegarra. “Houve atraso na divulgação da lista de passageiros, e nem todo o conforto necessário para os parentes”. O executivo viveu os últimos dez anos nos Estados Unidos. Trabalhou para a United Airlines e lembra-se de que todo ano havia reuniões para discutir procedimentos de crise (como seqüestros ou queda de aviões). Segundo ele, as companhias aéreas latino-americanas estão muito longe disso. “É preciso saber de antemão, por exemplo, quem é o porta-voz autorizado para cada caso”, observa. “O que uma pessoa fala durante uma crise pode ser fatal numa crise.”
Quando se trata de plantas imensas, como no caso da mineração, planos de contingência são essenciais. Novamente, o “anti-case” é a Rio Pomba, que não tinha plano de gerenciamento de crise. “Numa emergência, isso minimiza danos às pessoas, ao patrimônio público e ao meio ambiente. Logo, reduz o impacto na receita e na participação de mercado da empresa”, raciocina Zegarra.
Planos de Continuidade de Negócios e seguros não vêm no mesmo pacote, embora os planos facilitem a venda das apólices – o que é bom para corretoras e seguradoras. Por outro lado, controles não substituem o seguro, mas reduzem riscos e, portanto, o preço das apólices – o que favorece as empresas. No futuro, vai ser difícil conseguir cobertura sem Gestão da Continuidade de Negócios. A sociedade não perdoa mais.
|
GESTÃO DA CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS |
O QUE É?
Um arcabouço (framework) para identificar as vulnerabilidades operacionais de uma empresa e estruturar planos para enfrentar com eficácia as situações adversas.
PARA QUE SERVE?
No dia-a-dia: identifica riscos e prováveis impactos, traça estratégias e planos de ação e organiza testes e exercícios práticos.
Em situações de emergência: reduz os danos a pessoas, ao patrimônio público e ao meio ambiente.
Durante a crise: protege a imagem da empresa, minimiza ações judiciais e coordena a comunicação com os vários públicos.
Na recuperação: diminui o impacto sobre a receita e a perda de participação de mercado da empresa.
QUE ÁREAS PROTEGE?
Operações, Finanças, Tecnologia da Informação, etc.
|
QSP/NGR - Núcleo de Gestão de Riscos
Gestão de Crises Gestão da Continuidade de Negócios
Fonte: BS 25999-1:2006 QSP/NGR . Ligue: (11) 3704-3200. |